Retomo a série de entrevistas com escritores trazendo um querido amigo-poeta!
Antonio Carlos Sobrinho é licenciado em Letras - Português e Inglês, mestre em Estudos da Linguagem (Uneb) e doutor em Literatura e Cultura (UFBA). Foi selecionado como escritor participante do Curso Livre de Preparação do Escritor (Clipe) da Casa das Rosas/SP em 2023. É o idealizador de Luminescências - Revista de literatura e outras artes, periódico vinculado à Faculdade de Letras da Ufal (e que tenho o prazer de editar junto a ele), instituição onde atua como professor substituto. Desenvolve pesquisa junto ao grupo Rede experiência: narrativas e pedagogias da resistência, da UnB, e trabalha como revisor de textos acadêmicos e literários.
Antonio é autor de pequeno laboratório das coisas da vida (Patuá, 2021) e quase um manifesto (Patuá, 2023), este último o tema da nossa conversa. Você pode adquirir os livros através deste link. Caso deseje fazer contato com o autor, escreva para: acsobrinho83@outlook.com.
Antonio: Permita-me começar pelo trecho final de seu comentário.
Acredito que você tem razão em supor um alinhamento ético entre o que penso — e, por consequência, meus modos de ocupar espaços no mundo — e o fato de meus dois livros até então publicados o terem sido por uma editora independente, a Patuá.
No entanto, se eu não nuançar um pouco esta afirmação, corro o risco de talvez moldar — ou dar a entender — uma imagem que não corresponde exatamente à realidade dos fatos.
O que você diz parece-me correto para quase um manifesto, meu segundo livro, lançado em outubro de 2023, mas não — ou, pelo menos, não totalmente — para pequeno laboratório das coisas da vida, editado dois anos antes, em 2021. Em relação a este, a razão que me fez submetê-lo ao parecer da Patuá foi de natureza muito mais trivial, ordinária mesmo: a possibilidade de ser publicado.
pequeno laboratório das coisas da vida saiu pela Patuá porque o Eduardo Lacerda, ao contrário de outros editores, respondeu o meu e-mail e disse sim àquele livro. Não houve, e é preciso dizê-lo, nenhuma outra razão subjacente: a priori, nenhuma ética.
 |
| Reproduzido do site da Editora Patuá. |
O mesmo não se coloca para quase um manifesto, livro que, desde a capa — aliás, agradeço publicamente ao Alessandro Romio, que a desenhou — apela para a força e para a beleza das existências menores, aquelas dotadas da potência de milagrar possíveis quando tudo, ou quase tudo, é vasto platô de impossibilidades. Trata-se de um livro que, ao meu ver, coincide bem com sua circulação via editora independente: parece-me que ambos, quase um manifesto e a Patuá, reivindicam políticas, se não de todo semelhantes, ao menos próximas — coincidência esta que talvez se exiba nos versos finais de “máquina de guerra”, um dos poemas do livro: pois a palavra / é força em disputa / e o poema / a minha máquina de guerra.
De fato, as editoras independentes, ao abrirem espaço e promoverem a circulação do texto poético, sempre tão rarefeita noutras casas editoriais, têm feito do poema a sua máquina de guerra, no sentido deleuze-guattariniano que este termo tem.
Acho que com isso, e de algum modo, já tangenciei a outra parte de seu comentário, aquela relativa ao espaço conferido à poesia no mercado editorial brasileiro. Porém, se já não me delongo demais nesta sua primeira questão, gostaria de dar maior precisão à palavra.
O fato é que as editoras independentes, muitas delas voltadas em maior grau para o texto poético, operam como pequenos furos por onde a poesia encontra o seu meio — se não de existir, porque ela existe a despeito de todo bloqueio — sem dúvida de fluir, circular, ganhar mundo. As editoras independentes são um dos meios de encontro — e, no que tange ao suporte livro, talvez o principal deles — entre poesia e público leitor. Assim, elas, as editoras independentes, abrem o real para que a poesia instaure as suas intensidades, as suas multiplicidades.
Diferentemente das grandes casas editoriais que, de antemão, rejeitam o recebimento de originais de poesia — mas não de outros gêneros — e apenas publicam poetas de circulação já estabelecida, que representam menor risco para a empresa, as editoras independentes não barram autorias desprovidas de publicação prévia ou algum tipo de consagração — um pré ou posfácio de intelectual/artista de (muito) renome; uma resenha favorável nas principais publicações brasileiras sobre literatura, algum prêmio obtido ou, mais contemporaneamente, ampla reverberação no mercado de likes e compartilhamentos das redes sociais. E isto muda tudo, não somente pelo gesto notável de dar a conhecer autorias antes impossibilitadas de publicar em livro (mas atuantes nas redes, nos blogs e nas revistas virtuais), como também, e principalmente, por pluralizar — em termos estético-formais e temáticos; geográficos, etários, étnicos, de classe, gênero e sexualidade, etc. — a poesia publicada no Brasil.
Eu diria que, se hoje é possível ler tantas e tão diversas autorias poéticas, muito se deve à comunidade de pequenos lampejos que as editoras independentes possibilitam, convocam e mobilizam.
H: Comecemos pelo começo: o título. Quase um manifesto evidencia, a partir de minha leitura do poema homônimo, algo como uma declaração dos atos que possam fundamentar a vida enquanto direito. Me fala um pouco sobre a escolha desse nome?
A: Esse livro teve muitos títulos provisórios. A maioria foi, mais cedo ou mais tarde, descartada. Alguns sobreviveram e passaram a identificar um ou outro poema. É o caso, por exemplo, de “do direito de ser festa ou poema que te prometi um dia”. O título retoma o poema “do direito à tristeza”, do pequeno laboratório das coisas da vida, para cumprir uma promessa nele lançada: uma vez feito o trabalho do luto, que compreende o arco daquele livro, ancorar o poema de novo na vida para então abri-la, multiplicá-la, afirmá-la em sua máxima potência.
Eis o plano geral de quase um manifesto: desobstruir fluxos desejantes para inaugurar — sempre e cada vez mais — vidas criadoras de si mesmas: exuberantes, afirmativas.
Trata-se de um plano político, dado que o mundo ao nosso redor é moldado para nos rebaixar a uma vida em vibração mínima, aderente às formas já instituídas e incapaz de instaurar a si mesma: uma vida alijada do que pode. Foi por este caminho que me veio a ideia de pensar o livro como um manifesto.
No entanto, se me agrada o encaminhamento político que a palavra “manifesto” comporta, assusta-me o que ela tem de peremptório, de programático, de sectário; desespera-me o que ela produz de força modeladora de formas conformes, fixas, repetidoras ad infinitum do mesmo de si.
Por isso, por esta minha restrição parcial ao termo “manifesto”, surgiu o “quase” — que eu talvez tenha roubado do livro quase uma arte, da Paula Glenadel. Enfim, trata-se de uma estratégia para reter uma certa dimensão da palavra “manifesto”, aquela que me interessa de perto, mas igualmente recusar a identificação total, fechada: esses poemas são uma manifestação política que briga pela possibilidade de instaurar uma existência, gesto afirmativo apenas possível em disposição alegre e que não compreende a priori nenhum programa e nenhuma forma já estabelecida: opera em devir, inaugurando possíveis.
“Manifesto”, portanto, em razão do teor de manifestação política que o livro abarca, mas “quase” para evitar que este manifesto, o manifesto deste livro, seja seguido de um corolário dogmático e universalizante.
H: O livro é bastante dialógico, os títulos de alguns poemas — convites, cartas, conversas — fazem sentir como se lendo um diário estufado de papéis e fotografias. É tudo muito delicado, mesmo nos poemas em que a verve política é mais explícita, como “máquina de guerra” e “carta aberta”. Essas são características da sua escrita ou algo que se desenvolveu especificamente para o segundo livro?
A: Parece-me, sim, que são traços — ou têm sido traços — de minha escrita, embora talvez intensificados em quase um manifesto.
Em relação ao que você reporta como dialogismo, acredito ser este um procedimento muito mais explícito no segundo livro do que no pequeno laboratório, embora igualmente presente lá.
Minha primeira publicação, apesar de também tratar de questões e lutos coletivos, como se vê em seu poema de abertura, “crônica do tempo presente”, é muito mais definida por um arco pessoal: o processamento poético de uma ausência que se faz na ainda presença do que já não está: a mãe. Neste sentido, reúne poemas que orbitam o centro gravitacional de um eu em luto.
Este já não é o caso de quase um manifesto, livro em que, mais do que um eu, assoma a presença — ou o desejo — de um nós, um coletivo, uma comunidade cintilante: não à toa, o seu primeiro poema, “dedicatória ou declaração pública de amor”, registra uma quantidade significativa de nomes — já carente de atualização para mais — aos quais dou as mãos por serem quem são, no caso de amores muitos próximos, ou em razão das obras que constituíram e que me atravessam, compondo uma vida em mim e comigo.
Penso que há sempre um tu e, por extensão, a possibilidade de um nós no horizonte de quase um manifesto. Trata-se de um procedimento que aponta para um desvio em relação à radical atomização do corpo coletivo operada pelo capitalismo neoliberal, como se o livro insistentemente organizasse uma reversão da estratégia de captura dos nossos corpos via fragilização de nossos devires comunitários, de nossas conexões íntimas. Contrário a qualquer processo de hiperindividualização como base de constituição dos sujeitos, quase um manifesto lança uma aposta no outro porque entende que apenas o outro nos sustenta em pé, que apenas com o outro é possível mobilizar forças alegres e então potencializar a nossa própria existência.
A rigor, não há um eu neste segundo livro — embora tal palavra apareça, sim, algumas vezes —, mas a reivindicação contínua de um nós: o desejo de formar comunidade. Por isso, as cartas, os convites, as conversas.
(Escrevendo o parágrafo acima, noto que deixei de imprimir uma quarta epígrafe ao livro. Se ainda é possível corrigir este lapso, registro-a aqui: “O presente é tão grande, não nos afastemos. / Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas”, de Carlos Drummond de Andrade.)
No que tange ao segundo aspecto, fico realmente feliz que os poemas desse livro tenham assim se apresentado à tua leitura. De fato, acredito na delicadeza como uma política do estar com. Ao falar em delicadeza, não suponho sua distorção em fragilidades nem a sua idealização em uma harmonia do tipo edênica. A primeira toma por delicado aquilo o que, pelas circunstâncias de sua existência, quase não sustenta a própria vida; a segunda, uma fantasia para sempre irrealizável. No lugar do que pressupõe a primeira, digo que a delicadeza é uma força que nos coloca em rota de mais vida, tanto para nós quanto para o nosso entorno. Tenho-a, portanto, como um elemento fundamental para a constituição de nossas comunidades. Pois, ao contrário de fantasmagorizar relações impossíveis, ela reivindica modos mais suaves de atrito entre os nossos corpos e entre as arestas que compõem os nossos corpos.
Penso em “O divisor”, de Lygia Pape, e no desafio gigantesco que aquela obra coloca em cena: como movimentar as nossas singularidades sem que elas se degenerem em individualismos estanques e rasguem o tecido social que nos conecta como um grande corpo coletivo?
Minha aposta, que é também a aposta do livro sobre o qual conversamos: incorporando uma ética da delicadeza a cada passo, a cada giro, a cada mudança de rota, a cada aproximação e, inclusive, a cada afastamento.
Em certo sentido, os poemas de quase um manifesto partem dessa premissa.
H: Com “ofertório”, poema de abertura, você estabelece a atmosfera ritualística que perdura no desenvolvimento do livro dispondo potências delicadas com as quais vai trabalhar. Me toca particularmente a analogia possível com a apresentação das oferendas em cerimonial religioso, momento em que os presentes podem também fazer suas contribuições, o que me faz pensar na tua relação com o mundo através da escrita. Em que lugar a poesia te faz se enxergar hoje? Há expectativas diferenciadas das que podem ter se colocado quando da publicação do seu primeiro livro?
A: Não. Tanto com pequeno laboratório quanto com este, quase um manifesto, a única expectativa que se colocou foi a de dá-los ao mundo, pois o poema é o modo mais forte que tenho de habitar o chão que me sustenta — e eu sinceramente acredito que não podemos dar ao mundo menos do que a voltagem máxima em que o nosso corpo vibra.
O poema mencionado por você aponta para esta perspectiva. Posicionado logo à entrada do livro, “ofertório” é um ebó feito inteiro de puro amor. Aos pés do mundo e de quem o lê, o poema oferece um relicário de miudezas // gotas de chuva pequena / e o ruído da terra / quando as aceita.
Eis o que ofereço neste livro: possibilidades de nascimento. Não tenho expectativa de o mundo as aceitar nem em relação ao que fará com elas, caso as aceite. Apenas de oferecê-las.
Em relação à tua primeira pergunta, peço desculpas, mas não sei respondê-la. É que eu não penso muito em termos de posição, linhagem, estilo, etc., mas em variações, fluxos, devires, experimentações. Posso sem dúvida te dizer autorias às quais dou as mãos, mas, além do risco de esta lista se estender muito, elas seriam tão diversas entre si que dificilmente se tiraria daí alguma conclusão coerente. Ademais, sou poeta de publicação recente e curta — dois livros e alguns poemas em revistas online, fora os inéditos. Talvez seja muito cedo para [alguém, não eu] avaliar onde se coloca o conjunto de meus textos — se é que eles merecem tal esforço e algum lugar. De coração, não é coisa que me preocupe.
No entanto, ainda no ensejo de sua pergunta, mesmo que a distorcendo um pouco, posso te dizer que a poesia não me posiciona como escritor — parte segmentada de um todo —, mas como um vir-a-ser no mundo, isto é, como uma totalidade para sempre inacabada, para sempre em processo.
A poesia é uma modalização da existência, não um ofício. Pela poesia me faço não só poeta, mas também leitor, também amante, também amigo e professor; me faço aquele que, apesar das pedras e mesmo por demais fatigado, continua em busca / de maravilhas / e borboletas.
A poesia circunda a minha existência e cria um modo poético de existir. Talvez seja esta a forma mais sincera de te responder, ainda que não tenha sido exatamente esta a tua questão.
H: Precisamos falar sobre a estrutura bem construída do livro e sua importância para torná-lo uma experiência diferenciada de leitura contínua. Um exemplo é a transição entre “apesar das pedras” e “carta pra adélia”: o primeiro aproxima o movimento das retinas ao dos pés na busca de “maravilhas e borboletas”, o segundo resgata esse recurso poético abstrata e concretamente, inaugurando o emprego da fotografia, a luz do sol atravessando uma janela — você potencializa a implicação com os efeitos do poema. Isso mexe na minha relação com o texto versificado, que é a da leitura mais compassada, mais lenta. Como foi o processo de escrita e preparação do livro? Esses movimentos sempre estiveram presentes nele?
A: Para responder a esta tua pergunta, talvez eu deva começar esclarecendo um ponto: o poema me acontece como escuta daquilo o que vem. Com isso, por favor, não entenda nenhuma implicação metafísica na construção do poema ou, muito menos, que eu esteja fazendo referência à ideia de inspiração — ambas são perspectivas que considero extremamente danosas. O que vem também não diz respeito a um acontecimento vindouro, mas àquilo que, ainda desprovido de linguagem, já se inquieta como força tal no corpo que este se coloca em disposição criadora. Para usar uma fórmula da Suely Rolnik, o poema é quando eu me coloco à escuta de “futuros em germe”, isto é, não um futuro para sempre protelado em amanhãs e cujas idealização e espera nos adoecem e imobilizam, mas um que vibra, lateja e pulsa desde o presente, desde o aqui.
Dito isto, vamos agora à tua pergunta.
No dia seguinte ao envio da versão final de pequeno laboratório das coisas da vida para que a Patuá imprimisse a primeira edição do livro, escrevi um poema, “carta pro josé”. Algo havia se modificado: aquele poema não se alinhava à mesma cepa de textos do pequeno laboratório: dizia outras coisas, apontava outras direções, convocava o vir-a-ser de um artefato outro, ainda inominado.
É óbvio que, àquela altura, eu não tinha ciência de que livro seria aquele, muito menos de como se daria a sua composição. Não havia um plano ou um argumento, sequer um conceito. Apenas um poema, “carta pro josé”, e a disposição de escutar outros poemas que certamente já vibravam no interior daquele primeiro, matriz. Em sequência, vieram “carta pro bandeira” e “carta pro amigo abu”, com os quais começaram a se delinear as linhas mais gerais de quase um manifesto: a ancoragem da vida naquilo que é força para mais vida: a presença alegre e mobilizadora do outro. Tratavam-se de poemas capazes de encontrar ali, onde é o começo / de todo começo: // o milagre / dos modos intensos / de vibração, como está posto em “cosmopoética”.
Então, surgiram os primeiros esboços: a organização por seções, uma lista de temas e imagens, um elenco de procedimentos, títulos, referências, etc. Nada disso ficou: indisciplinado, quase um manifesto se montou e remontou muitas vezes, sempre à revelia dos planejamentos que visavam suspender o seu livre acontecimento, prendendo-o a uma forma prévia e limitando o vir-a-ser dos poemas.
Escrevi uma seção inteira, composta por mais de 20 poemas, todos muito curtos, intitulada “post-its”. Esses poemas, dispostos em sequência numérica e recorrendo a uma simbologia cromática — post-it n. 1, verde-neon — constituíam uma espécie de salvaguarda contra o rebaixamento niilista da vida. Ao longo de quase um ano, desenvolvi os poemas para esta seção e experimentei possíveis variações. No entanto, toda e qualquer tentativa de articular os post-its com os demais poemas de quase um manifesto soava às vezes artificial, outras pueril; quase sempre esquemática. Desta seção, apenas resistiram “conditio sine qua non”, que abre o segundo conjunto de poemas do livro, responsável por investigar potências de vida em meio à sua própria (quase) falência, e as transições versificadas entre um e outro coletivo de textos.
Outro exemplo: de início, os três poemas que compõem a série “procedimento de cura” seriam apresentados em sequência enquanto os três da série “agir” o seriam de modo fragmentado, dispersos ao longo do livro. Quando da organização final, deu-se exatamente o contrário: os poemas da série “agir” compuseram um bloco único e os procedimentos de cura espalharam-se pelo livro. Ao agrupar os poemas da série “agir”, penso ter ganhado em ênfase, o que me parece condizente com a proposta daqueles textos. Já ao fragmentar a série “procedimento de cura” — inclusive dispondo-a ao longo de dois conjuntos distintos de poemas —, quis que, na repetição de sempre voltar ao movimento de cura, estivesse aí encenada a guerra que a minha poesia trava, de modo recorrente, contra os afetos de tristeza. Refiro-me aos afetos de tristeza mobilizados por uma política de rebaixamento e controle de nossos corpos, afinal, corpos tristes não fazem revolução. Não àqueles ocasionados incidentalmente pelo giro dos dias e cujo tempo precisa ser vivido em sua exata duração.
De modo mais geral, e sempre a posteriori, os poemas se organizaram em torno de alguns núcleos — daí, talvez, a sua percepção de um certo desdobramento na passagem de um a outro texto.
Os três primeiros, “dedicatória ou declaração pública de amor”, “ofertório” e “modus operandi” constituem a entrada de quase um manifesto e evidenciam três linhas do livro: o movimento de composição de um nós, a potência de corpos/gestos/modos menores e a insistência em criar alegrias, mesmo quando impossíveis.
Em seguida, quatorze poemas — de “carta aberta” a “quase um manifesto” — configuram um conjunto de textos em disposição solar. O que está em jogo aqui é a potência dos afetos alegres como força de reorientação dos corpos em torno da afirmação de si mesmos. “carta pro amigo abu”, “sina”, “do direito de ser festa ou poema que te prometi um dia” e “essa coisinha assim toda miudinha” parecem traçar as linhas percorridas pelos demais poemas desta seção: uma definição daquilo o que chamo de vida em modo forte, noção esta que sustenta todo o livro; a recusa à produção de morte, mesmo quando esta parece ser a única possibilidade, a celebração de um corpo, quando afetado de alegria, e o efeito de revolução que este afeto é capaz de engendrar.
carta pro amigo abuabu queridose você provocasseeu te diria:vidaé quando pequenos encontrosse fazem irrepetíveiscaso insistisseeu te diria:vidaé quando forças movema alegrias incríveisse não satisfeito você instasseainda outra resposta entãoeu te diria:vidaé quando o sim roçaa pele dos possíveise nos abraçaríamos
Na sequência, vinte poemas compõem uma seção que procura investigar potências de vida no ponto dramático em que ela própria, a vida, está prestes a falhar. Os poemas “do que mamãe ensinou” e “com deleuze, no terceiro andar” parecem-me os mais emblemáticos deste movimento. Trata-se de uma operação de recolha das forças que se arrojam das cenas e dos instantes capturados para, em comunhão com elas, quiçá um dia “brincar carnaval”, como digo no poema “carta pro bandeira”, o qual encerra este momento de quase um manifesto.
Seis metapoemas — ou quase metapoemas — formam o conjunto seguinte. Nesta seção, o poema dobra-se sobre si mesmo para revelar-se não como forma, mas como força: um artefato, uma máquina de guerra: criação de linguagem para instaurar possíveis que a língua nossa prosaica sequer alcança imaginar, quanto mais dizer.
O último conjunto de poemas é composto por oito textos, os quais investigam a emissão de lampejos por corpos menores dotados da capacidade de acionar devires-revolucionários.
O poema que encerra quase um manifesto, um post scriptum intitulado “pequena memória familiar”, foi de fato produzido após o livro estar praticamente pronto, sendo incorporado a ele apenas às vésperas do envio final para a editora. Este é o poema mais longo da publicação, dividindo-se em oito partes em que o particular — a história de uma família — e o coletivo — a tragédia de uma nação — se entrecruzam em atos de guerrilha contra a ditadura, o esquecimento e a possibilidade plúmbea de retorno a 64.
H: Aproveitando a fotografia em “carta pra adélia”: a recorrência das imagens de janelas tem peso significativo. Várias vezes te imaginei escrevendo os poemas do livro sob ou observando uma janela. O que essa construção, esse objeto-imagem representa para você?
A: Essa é uma pergunta muito bonita, Hyago. Muito obrigado por ela.
Janelas ocupam parte importante de meu vir-a-ser no mundo: faço-me quase por inteiro delas, poucas são as paredes sólidas no fundamento de mim — e mesmo estas, quando há, são por demais porosas.
Janelas são pontos de passagem, pequenos espaços por onde mutuamente se invadem o dentro e o fora, a casa e o mundo, o eu e o outro.
Janelas são pontos de indecibilidade, pequenos espaços em que a lógica das identidades se desorganiza e os corpos acionam devires. Lugares onde os binarismos dentro e fora, casa e mundo, eu e outro se desfazem naquilo que não é a soma nem o amálgama, mas suplemento imprevisível que deriva do encontro: denfora, casundo, eutro, eule, eula.
O que mais importa em uma janela não é bem a paisagem que ela emoldura, pois todas têm o seu quinhão de estremecimento, mas o convite à expansão que ela repõe sempre que aberta. Do outro lado de uma janela, há possibilidades de existência que o lado de cá é incapaz de conceber ou arriscar sozinho, tremores que podem reconfigurar nossas formas mais ordinárias de vida.
Veja: quando uma janela é fechada, porque assumimos monstros à espreita — e a produção de medo é uma estratégia eficaz de controle do nosso devir —, um possível, um vir-a-ser se perde, pois tudo resta encerrado na mesmidade das paredes e o mundo / já não consegue / mais ventilar o teu sonho / nem teu sonho, / o mundo, como está em “nossa conversa sobre janelas”.
Disposição oposta registro no poema intitulado “quase um manifesto”: vivo porque me encanto / das coisas do mundo // e me comove a beleza / daquilo o que me invade. Trata-se disso, saca? Uma aposta nos buracos que abrimos em paredes e muros e, sobretudo, na potência que eles têm de fazer o mundo roçar o meu corpo e o meu corpo, o mundo.
H: “cartinha de amor” é um dos meus poemas preferidos. Traz senso muito particular de localização guiado por experiências íntimas, agrega referências ao vodum, recusa o epidérmico e convida para o mergulho nesse lugar que só é acessível aos que se querem amantes, não apenas na acepção comum do termo. Como você percebe essa dança entre amor e sacralidade na sua poesia?
A: Esta é uma questão que apenas se coloca agora, em função de sua pergunta. De fato, nunca pensei “cartinha de amor”, nem qualquer outro poema meu, a partir dos termos em que você os lê, a dança entre o amor e a sacralidade. Entendo que você talvez a acione em função de certos usos lexicais que dizem respeito ao meu lugar religioso, o candomblé — feitiço, encruzilhada. Pergunto: tal leitura se sustenta na ausência de informação prévia acerca de minha fé? Não sei: é uma dúvida.
O que posso te dizer com certeza é que este não é um efeito procurado — ao menos, não do ponto de vista do traço racional que ancora o processo de escrita na consciência. O amor é um motivo mobilizador de minha poesia, sobretudo em virtude da potencialização do ato de existir que ele acarreta — o amor não produz e nem pode produzir tristeza; esta apenas se origina de afetos contrários e em descompasso com o amor. Mas o sagrado, salvo em incidências bem pontuais, não me parece tão presente assim, ao menos não no que escrevi, publiquei e não publiquei até agora.
Em todo caso, você me fez pensar — ou talvez elaborar algo que li algures sei lá quando — que o amor pressupõe, sim, algum quinhão de sagrado ao mesmo tempo que o repele, sendo-lhe de certo modo contrário.
Digo algo de sagrado de maneira alguma acedendo a uma noção metafísica de amor, mas referindo-me à sua capacidade corpórea de abrir e multiplicar planos em quem ama, isto é, de convocar infinitos e delicados modos outros de vir-a-ser. Penso, por exemplo, no conto “Veridiana”, de Lande Onawale. Porque se amam, ainda que não saibam chamar amor o que experimentam, Romão e Veridiana deslizam: descobrem-se súbito em diferença de quem eram: milagram ternuras. E o que é o sagrado — ou a força do sagrado — se não esta possibilidade de afetar o real para que nele, a despeito de tudo, venha à tona o improvável, às vezes mesmo o impossível?
Então, sim, talvez o amor dance com o sagrado.
Porém, não se trata exatamente de uma dança calma, rosto no rosto, daquelas que suspendem a azáfama do mundo. O sagrado, por sublime, aparta-se do comum: não raro, coloca-se acima. Sagrado — tanto na sua forma substantiva quanto na adjetiva — é palavra que aciona certo distanciamento: aquilo que o é, mesmo não sendo esta a sua vontade, se faz — ou é feito por nossos ritos e cultos — à parte do resto de nós.
O amor, então sendo um dínamo de aproximações sem fim, talvez seja uma força de profanação do sagrado. Quando digo isso, não me refiro ao amor como algo iconoclasta ou blasfemo: o amor não quer destruir ou ofender o sagrado, mas restituí-lo ao chão do comum de nós; recuperá-lo não como objeto distanciado de culto e veneração, mas como milagre no aqui dos corpos. O amor aciona o sagrado naquilo que é a sua presença em nós, engendramento de mais vida. Para tanto, ultrapassa a dimensão de sacralidade com a qual nós, ao longo da história, o revestimos: toca a sua carne, irradia-se de seu calor, bebe de seus fluidos.
Pensando por esta perspectiva, e ressalvando que continuo sem saber se minha poesia a contempla, digo que, sim, talvez o amor dance com o sagrado.
H: A música é um aspecto muito presente no livro. Há um zelo evidente pela sonoridade nos poemas, também atravessados por epígrafes e referências — Edy Star, Johnny Nash, Ana Frango Elétrico, Sandra de Sá, Bee Gees e BaianaSystem, estão todos lá. Os poemas “procedimento de cura I” e “II” remetem à música como instância de possibilidades, de força e de suspensão, quando necessário. Gostaria que falasse um pouco sobre a influência da música na escrita de quase um manifesto.
A: Se você observar com bastante atenção, perceberá que, muitas vezes e sem qualquer razão aparente, levo a mão direita mais ou menos à altura do quadril e alterno movimentos rítmicos, ou nem tão rítmicos assim, com os dedos indicador e médio. Você não ouvirá som algum, nem poderá adivinhá-lo marcando o fora do tempo do pizzicato, mas ali haverá uma canção.
Há sempre uma canção, ainda que ninguém mais a ouça.
Em um texto que publiquei recentemente, “Comer da fome de Quincas, ou, para instaurar outros modos de existência”, comento en passant a respeito da forma com que processo os acontecimentos do mundo: traduzindo-os nas canções que ficam.
As referências às canções, bandas, cantoras e aos cantores presentes em quase um manifesto, além de constituírem um procedimento para a composição de uma comunidade, derivam naturalmente de suas presenças orgânicas inclusive no absoluto silêncio de mim: ali, onde já não há qualquer palavra, ainda resta o eco distante de uma melodia, de um solo, de uma linha de baixo recriando a linguagem em que venho a existir. Portanto, penso que você diz bem: “instância de possibilidades, de força e de suspensão”.
H: Em “do que mamãe ensinou” a voz poética se encontra com o tempo através de aspectos físicos dos quais o corpo não escapa, ao mesmo tempo em que prefere observar a potencialidade, a força do gesto cotidiano da mãe que permanece de pé para regar as plantas. Esse texto abre uma série de poemas sobre a finitude da vida, e/ou de elementos na sua órbita, que introduz o espaço de reelaboração dos lutos individuais e coletivos. “p.s. pequena memória familiar”, última seção-poema do livro, trabalha em 8 partes perdas, das mais diversas naturezas, diretamente ligadas à Ditadura Militar no Brasil das décadas de 1960 a 1980. A avó que enfrentou inúmeras vezes o risco de morte pelos próprios filhos, as vassouradas, os disfarces da tia, o recorte de jornal, enfim, a escrita como faca. Para finalizar, gostaria que falasse um pouco desses poemas.
A: Você os sintetizou brilhantemente.
Eu diria que ambos são, cada um à sua maneira, poemas políticos. Entendo que esta afirmação é muito mais evidente quando se refere a “p.s. pequena memória familiar”, uma vez que este texto articula uma resposta à produção sistemática de horror promovida pelo país que nos serve de pátria, em especial, à tentativa de (re)apagar o nefasto da ditadura, reescrevendo-a em termos positivos ou como possibilidade e desejo de retorno. A qualquer pessoa, sobretudo àquelas que se arrogam “de bem”, tal aspiração deveria soar como um insulto ou doer como um soco, causar indignação e repulsa, fomentar revoltas, operar levantes – no entanto, o que de fato se viu, num misto de espanto e terror, foi o 8 de janeiro de 2023.
A mim, então, rebento de uma família indelevelmente marcada pela dor dos anos de chumbo, herdeiro de um nome de quem ainda hoje é considerado como desaparecido político, filho de pai duas vezes preso e inúmeras vezes torturado, sobrinho de tia perseguida pelos quatro cantos do país e neto de uma vó atravessada por toda sorte de violência, cabe não fazer coro ao silêncio. Se o poema é a minha “máquina de guerra”, se com ele ativo arco-íris particulares, é também com ele que guerrilho contra as trevas de meu tempo: é também com ele que digo não, quando dizer sim significa anuir ao horror.
Gosto de sua expressão, a escrita como faca. Lembra-me um amor que tenho, Belchior, em a palo seco: e eu quero é que esse canto torto / feito faca corte / a carne de vocês. Sim: é um poema que se quer agudo e cortante, porque às vezes é preciso abrir a ferida que já há, fazê-la sagrar, talvez, inclusive, suporar para que então o corpo reaja, levante-se e debele a infecção.
Também político é “do que mamãe ensinou”. Decerto, não é um poema-faca, como se apresenta o post scriptum, mas nem todo ato político precisa ser a palo seco, não é mesmo? A política deste segundo poema se coloca como instauração de uma ética que procura intervir na vida em favor de mais vida, mesmo quando em condições improváveis.
Mamãe faleceu em 30 de janeiro de 2015.
Em seus últimos anos, a saúde foi paulatinamente declinando. Frágil, fragilíssima, qualquer esforço custava-lhe muito aos pulmões. Saía pouco de casa. Quando muito, passava algum tempo sentada na portaria do prédio onde morávamos, no Largo Dois de Julho, em Salvador: era querida e gostava de conversar com Raimundinho, amigo nosso e porteiro de longa data do Vista Bela: conheciam-se desde o início da década de 1980.
No final de 2014, aquilo que até então se apresentava como um declínio constante, mas lento, acelerou. Em dezembro, recebemos em casa a visita de pessoas que amávamos muito, porém mamãe pouco se levantava da cama ou mesmo interagia: cansava demasiado, sentia dores.
Recordo-me, no entanto, de uma manhã de janeiro em que dormi um pouco mais do que vinha dormindo naqueles dias. Ao levantar, a encontrei em frente à jiboia que tínhamos na sala. Por tudo que então acontecia — sobretudo, a piora de mamãe e as demandas do doutorado —, eu havia me descuidado da rega das plantas ao longo daquelas semanas. A jiboia que me viu nascer então espelhava minha mãe: definhava. Com uma jarra improvisada de regador, mamãe lentamente aguava a jiboia e também as demais plantas que tínhamos, indo de uma a uma e recusando a minha ajuda, como se eu a atrapalhasse naquele momento em que a via viva. Ao cabo daquela meia-hora de bonitos cuidados, que seria menos que dois minutos caso ela me permitisse substituí-la, perguntei a razão do esforço.
Porque há de ter vida nesta casa, meu filho.
De todas as memórias que tenho de mamãe, é aqui, nesta cena, em que eu mais a vejo: essa coisa incrível de ainda cuidar da vida, alimentá-la para que se expanda, mesmo quando tudo é a incontornável proximidade da morte.
É isso, sabe?
“do que mamãe ensinou” toca este quando eterno em que ainda me encontro com ela.
do que mamãe ensinoua atrofiavisíveldos músculosa fragilidadeintermitenteda vozo nófumacentoda tossee o passocurtodos pulmõesa tensãociclotímicado humoro prumoinstávelda espinhao movimentotrêmulodas pernase a lonjurainsondáveldas pupilasassim eu te vie te vejo contudonoutra cena:o teu esforçode ainda aguaro verde das plantasum poema, mesmo últimoo último poemanão virá comoúltimo poemavirá como esseainda outrovindo a serse no sustoe a contragostofor feito últimoque importa?um poema(mesmo último)apenas sabefazer nascer
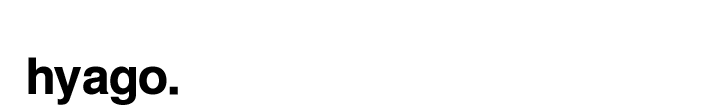


Nenhum comentário: