Antes de decidir fazer aulas, meus primeiros instrutores de dança foram Thalía, Ricky Martin e Shakira nas apresentações que assistia no programa do Gugu: eu memorizava os passos para repetir quando não houvesse ninguém por perto. Sob os olhares de meu avô e dos amigos que com frequência levava para casa, minhas vivências não comportavam usos do corpo que tensionassem a masculinidade tóxica de suas projeções. E isso vinha acompanhado da liberdade incômoda de outros meninos, pois eles dançavam Furacão 2000 na rua sem o escrutínio com o qual me deparava ao esboçar um rebolado.
Algo mudou na dinâmica de improvisação da dança de rua com o sucesso d'O clone e, logo em seguida, do Rouge. Em praticamente cada esquina, havia meninas dançando do aserejé a Whenever, Wherever ao redor de CD players ligados em gambiarras elétricas que cortavam as ruas. Elas passaram a ter repertório e estética muito próprios, constituindo um ethos com o qual me identificava, mas igualmente fora de alcance. O único espaço de fato disponível era o da cumplicidade de minha avó, sempre atenta às mãos do filho simulando a coreografia do Ragatanga em frente à TV na ausência de homens na casa.
Naquele momento, linguagem corporal e ritmo já eram agenciados pelo androcentrismo, tanto na performance em si quanto na sua apreciação. Não importava se o corpo dançante fosse masculino ou feminino. Mas eu não sabia dessas coisas.
Não faço ideia de quanto tempo dancei escondido atrás da kombi de meu avô ou em silêncio no banheiro, com o chuveiro aberto para abafar o barulho dos pés contra o chão. Só sei que foi muito. E que a insistência em ensaiar ritmos latinos “no escuro” me permitiu perceber a dança como veículo da expressividade desprendida do desejo de ovação, um modo de me conectar a essa latência ― até então sem nome ― acessível somente pelo movimiento de las caderas. Era como estar num estúdio, podendo me ver de todos os ângulos e ouvir os sons produzidos pelo corpo potencializados pela acústica do lugar.
Minha avó sabia disso. Tanto que partiram dela a iniciativa de me matricular numa classe de dança (nunca esqueci seu sorriso após me dizer que o faria se eu realmente quisesse) e o esforço financeiro envolvido no gesto, a contragosto de meu avô. Uma decisão pela qual não deixamos de sofrer punições.
Por alguns meses, fui o único garoto numa turma de dez pessoas ensaiando ritmos em alusão a datas comemorativas até resolver abandonar o curso. Nada exigia muito dos meus quadris. E se já sabia que não era a exibição o incômodo em não poder dançar em público, durante as aulas descobri que tampouco a falta de companhia. Eu queria ser livre para escolher, sem o peso das mãos de outro homem, o quê, onde e quando dançar, porque a dança ― a minha dança ― era um espaço seguro para existir.
Depois de adulto, comecei a fazer dança do ventre. No passo do oito maia desenhamos o símbolo do infinito com os quadris, exigindo bastante controle dessa parte do corpo ― quanto mais "soltos", melhor. Se na infância me fosse permitido brincar com bambolê, isso teria poupado tempo na busca por executar o movimento com precisão.
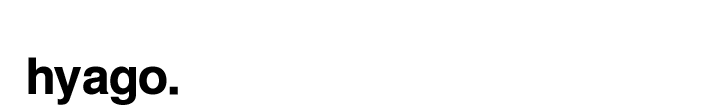
Nenhum comentário: