tiro uma foto da sua janela
porque quero lembrar
como era essa brisa
pergunto se venta assim até no verão
como quem se prepara para os dias difíceis
diz que depende da direção dos ventos
nunca entendi como se usa uma bússola
penso que poderia ficar
aqui feito os que esquecem dos trajetos
indiferente aos movimentos obsessivos
poderia não insistir
aceitar mais um café
me entreter com o que há
nessa posição propícia
longe do que pode ser ou não certo
guardo o recorte azul
até a próxima
partida
conto mais com a nostalgia do que com a sorte
- Taís Bravo em Sobre as linhas extintas (Urutau, 2018)
Sinto falta de olhar o céu da tua janela. Saco o iPod do bolso para ouvir a mesma música e uso do pretexto para abrir a galeria na última imagem que guardei desse momento: raios de um sol recém-nascido atravessando brechas entre nuvens escuras. Pensávamos que naquele dia não choveria, mas essa acabou sendo uma das tantas previsões que não acertamos. Agora a cena exibe um retrato para além do céu diante da tua janela – é um prenúncio de sorte que, mais uma vez, não fui capaz de enxergar a tempo.
Nunca pensei que olhar o céu da minha própria janela seria tão difícil, não pelas lembranças do que fomos, isso não precisa de gatilhos. É impossível olhar o céu de agosto sem considerar as mesmas nuvens me perseguindo, sem contribuir com a chuva usando meus olhos. O resto é busca pela recuperação do tempo perdido, da visão de mundo real e daquilo que se partiu quando as cortinas blackout desse pequeno espetáculo se fecharam.
Não aceitarei nada menos que um sucesso de bilheteria.
Faço questão de que minha mãe repita a história do dia em que viu Ghost – do outro lado da vida a cada vez em que eu mesmo me preparo para assistir. Em 1990 ela e uma amiga foram à estreia no extinto Cine São Luiz, no centro da cidade, e as duas passaram horas na fila abarrotada de gente para comprar os ingressos. Quando finalmente conseguiram entrar no cinema, a amiga dormiu durante quase toda a sessão, enquanto minha mãe – em seu conjuntinho verde e suado – e o resto da plateia suspiravam a cada cena romântica.
Sempre que ouço esse relato me imagino um desses, suspirando e chorando copiosamente do começo ao fim. Hoje, já nos primeiros minutos do filme, quando uma Molly insone busca ocupar o tempo esculpindo argila em seu ateliê, já me dou conta dos olhos ficando marejados. E quando Sam a surpreende, sentando-se atrás dela e estragando o vaso que tomava forma apenas para reerguer o material na mais famosa dança de mãos da história do cinema... Antes dessa cena terminar eu já estou soluçando – aliás, quem pode resistir a atmosfera coroada pela Unchained Melody ao fundo?
Tudo isso funciona por se tratar de uma história de amor que ultrapassa as margens entre vida e morte, mas também como reflexo da conexão com o outro amado, uma das mais puras experiências humanas. Para minha mãe e eu, a clara emoção nos olhos fica por conta do acesso que esses "gatilhos" nos dão às memórias passadas e outras tão vivas que até parecem ter acontecido. Somos uma família com um histórico de insucessos amorosos em um ciclo onde as mulheres são sempre deixadas sozinhas e com ombros pesados.
Talvez seja isso o que faz Molly Jensen ser uma das personagens femininas mais interessantes do cinema dos anos 1990. Uma artista plástica cética e bem-sucedida que vê o amor da sua vida morrer em seus braços na noite em que lhe conta sobre o desejo do casamento. Molly segue sentindo tanta falta de Sam que se atém aos detalhes com um olhar que a impede de jogar fora os ingressos do jogo que os dois odiaram, o cachimbo improvisado que usavam para fumar. Ela é o arquétipo romântico que simboliza os desejos mais íntimos de todos nós, mesmo daqueles que os escondem por baixo de grossa camada de “personalidade”.
Uma das memórias de Molly que eu adoro relembrar é a do seu nome escrito na cueca do Sam – um recurso que eu mesmo usaria, sem sombra de dúvidas, e que soa ao mesmo tempo bobo e ansioso, afirmando algo como um pertencimento inerente. Se fosse real, com certeza ela teria engordado agendas com embalagens de bombons, postais, fotografias e recortes – assim como minha mãe em sua juventude, assim como eu até os dias de hoje. Seja numa cueca, seja na parte de trás de uma foto, às vezes o registro não é tudo o que nos resta daquilo que um dia foi a vida: fica ainda a incógnita do que fazer com ele (ou do que ele faz conosco).
A mãe de uma amiga muito querida me disse uma vez que a dor de perder alguém que parte desse plano é outra, muito diferente da dor de perder alguém que simplesmente decide deixar o espaço que ocupava antes. Isso porque nos dois tipos de luto choramos perdas, mas na perda de quem vai por desejo próprio há o problema da certeza de que ela permanece distante quando tudo o que se quer é que esteja perto. A assombração das possibilidades.
Me pergunto como Molly seguiria sua vida sabendo que nunca mais veria Sam, e como seria se, ao invés de ter morrido, ele simplesmente decidisse partir.
– Eu te amo, Molly. Eu sempre te amei.– Idem.– É incrível, Molly! O amor que guardamos, levamos conosco para sempre.
O diálogo final entre Molly e Sam.
*Este texto foi originalmente publicado na minha newsletter.
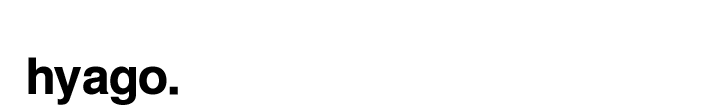


Nenhum comentário: