Eu sabia que algo assim aconteceria de novo. Sabia que o saldo negativo aumentaria, a vida daria um giro de 360° e os estados de espírito que levei anos para derrubar se reergueriam em questão de horas, reforçados por uma camada extra de concreto. Eu sabia. Só não imaginava que tudo isso aconteceria agora.
Mas aconteceu.
Na chegada, o protocolo de sempre. Vejo a maca ser conduzida para dentro do prédio enquanto alguém me orienta sobre a ficha e aponta a recepção. Vou até lá. Sinalizo que não tenho os documentos comigo e ouço “Não tem problema”. Qual é o nome da paciente? Idade? Nomes da mãe e do pai? Endereço? Telefone? Qual é o seu nome? Seu CPF? Grau de parentesco? O que ela tem? Minha atenção está toda voltada para entender isso e, assim, descobrir o que aconteceu. Meu cérebro parece fazer um esforço colossal para organizar ideias e conduzir palavras até a boca. Tento ajudar. Respondo a todas as perguntas, às vezes repetindo respostas, e investigo essa voz. Consigo visualizar a situação de outro ângulo, mas só enquanto duram as palavras. O atendente digita tudo sem a menor preocupação e informa que os documentos já constam no sistema, resquícios de outra entrada. Aceno com a cabeça e ele arrisca um diagnóstico inconveniente que só me deixa ainda mais ansioso.
2. Um mar de pessoas em macas toma o hall de entrada. Bolsas de soro, aparelhos de Ilizarov, inchaços, amputações, torniquetes e gesso em todo lugar. Estou tonto. O cheiro muda conforme avanço: pus, urina, sangue. Além das exclamações de dor, nenhum som é identificável. Sinto o mundo girar. Sinto várias coisas — dúvida, medo, frustração — e deixo de sentir aquelas necessárias em momentos como este — esperança, coragem, força. Estou sozinho em meio a toda essa gente. Eu e as lembranças dos primeiros anos em que lidei com o adoecimento de alguém que amava. A similaridade é incrível. Vejo a “minha” maca na porta do consultório e me pergunto como corresponder o olhar-pedido-de-socorro sem denunciar que o meu silêncio é também um pedido. Avanço. Levo as mãos aos olhos já secos, só para conferir. Entramos. As enfermeiras e a médica — que parece levar tempo demais para perceber nossa presença na sala — se cumprimentam. Ouço as observações sobre o quadro de saúde da paciente enquanto o diálogo sobre o almoço se desfia. Pressão arterial 20x7. Fadiga nos membros esquerdos. Disfonia.
Estou com medo. Não sei o que está acontecendo.
3. A transferência está marcada para as 19h30. O diagnóstico bate com o do recepcionista, talvez ele devesse tentar conseguir um diploma agora.
Aconteceu um acidente. Não um acidente doméstico ou de trânsito.
Uma tragédia interior, no mais literal dos sentidos.
4. São 23h52. Eu vigio enquanto ela tenta dormir, quero estar preparado para qualquer emergência. Um acesso foi feito na parte interna do cotovelo esquerdo, lado do corpo que ela não consegue mover. Envio mensagem para J. Após ver uma foto do laudo, ele diz que talvez não voltemos para casa tão rápido quanto gostaria. O fato dessa informação ter vindo dele mantém a tensão dentro de um limite razoável e que não me impede de pensar. J. tem a capacidade de me fazer lembrar como sou difícil em situações como a que vivo hoje. Agradeço imensamente e digo que o amo muito. Fecho os olhos e experimento o nosso abraço outra vez, como se a força do pensamento pudesse transportá-lo até aqui em seguida. A enfermeira interrompe entrando no quarto para medicar as pacientes.
5. Estou de pé, encarando uma janela com prédios de apartamentos ao fundo. Me deixo levar pela ideia de pessoas vivendo a normalidade das coisas tão próximo daqui. Um lembrete de como é bom estar em casa, ouvindo a risada aguda da pessoa sobre a cama ao meu lado. Olho para ela e penso em minha família. Olho para ela e penso em J. Olho pela janela... E para dentro.
6. Me preocupo com a estadia no hospital durante a pandemia. Andamos bastante pela outra unidade, e esta, mesmo limpa e livre da superlotação, não deixa de oferecer riscos. As janelas do quarto ficam fechadas. Dividimos o espaço com mais 8 pessoas, 4 delas pacientes, as outras são acompanhantes. Algumas não usam máscara ou só usam durante os atendimentos. Eu quero reclamar, mas me contenho. Não é possível fazer isso sem deixar a minha paciente nervosa. Movo o foco e aumento a quantidade de aplicações de álcool 70 nas nossas mãos.
7. São 3h12. Ela dorme de bruços, usando máscara, com uma toalhinha sobre os olhos. A luz branca contra as paredes também brancas é um carma. Retomo meu posto ao pé da cama depois de um pico de ansiedade enquanto estive no banheiro. Meus pés e mãos ainda frios assustam, mas consegui controlar os tremores com exercícios de respiração.
8. A paciente na cama ao lado é uma senhora negra que não para de tossir. Faz barulhos estranhos que lembram efeitos sonoros de filme de terror. Conto 6 segundos entre cada gemido e as repetições dos ruídos. Na cama seguinte, uma mulher branca e de meia idade que me parece muito bem. A quarta cama é ocupada por uma senhora branca, uma idosa bastante debilitada, com sonda nasogástrica conduzindo líquido turvo que parece bílis. Soube que costuma beliscar a acompanhante e as enfermeiras a cada banho, troca de fralda ou medicação. Outra senhora branca, igualmente debilitada, está deitada na última cama. Ela acumula os comprimidos debaixo da língua para cuspir quando não tem ninguém olhando, foi flagrada pela filha. As acompanhantes (sou o único homem desempenhando o papel) dormem no chão forrado com caixas de papelão desmontadas. Tenho sono, mas as ideias fluem muito depressa e os possíveis desfechos da internação pulsam nas têmporas. Encosto a cabeça na parede, minha paciente parece dormir bem.
9. Percebo que perdi a noção do tempo quando a tela do celular mostra 4h06. Minha paciente se mexe muito e não consegue encontrar posição confortável. Reclama de dor. Sinto uma vontade súbita de me ajoelhar, mas penso na máxima do “leve a mim e não a ele”. Em que consiste a narrativa da imolação? O flagelo que move as pessoas até esse momento já não é o bastante? Tudo soa católico e desumano demais aos meus ouvidos. Afasto os pensamentos e encosto a cabeça na parede.
10. Copio os resultados do monitoramento da pressão arterial e da glicose. Copinhos descartáveis, desses que servem um dedo de café, chegam periodicamente lotados de comprimidos. Presto atenção nos nomes e coleciono tudo no bloco de notas do celular. Pesquiso as ações e os possíveis efeitos colaterais, descubro utilidades e decoro associações.
Sinvastantina para reduzir os níveis de colesterol.
Bensilato de anlodipino para hipertensão e angina.
Losartana potássica para diminuir os riscos de repetição do acidente.
Hidrocolorotiazida para insuficiência cardíaca.
Metformina para controlar a glicose.
Ácido acetilsalicílico como anticoagulante.
Meu estômago embrulha com a ideia da ingestão dessa quantidade de químicos. E há outro na lista: omeprazol. Mas esse eu já conheço muito bem.
11. Eu tento me inteirar do que posso com o que tenho em mãos. O médico responsável pela supervisão do quarto não fala nada além do que já sei. Faço várias perguntas. Questiono se as tonturas que ela vinha apresentando com frequência estavam ligadas ao acidente. Digo os nomes dos medicamentos usados contra isso e espero resposta que possa ajudar. Que possa me ajudar a entender. Descubro que meu tio, com quem revezo o posto de acompanhante, sabe de mais coisas que eu. Será que o médico acha que não estou pronto para ouvir? Ou será que a torrente de perguntas que disparo contra ele em todas as oportunidades deixou a impressão de que falo demais? Talvez ele me queira assim, de boca fechada. Talvez seja só antipatia da minha parte.
Retomo as anotações e lembro da leitura mais recente na minha lista, O ano do pensamento mágico, da Joan Didion. Ela tomava nota de tudo para investigar as possibilidades que existiram entre o momento exato em que seu marido desfaleceu no jantar e a chegada dos paramédicos. Didion esmiuçava o discurso dos médicos, dos enfermeiros e do assistente social, recortando e cosendo para criar o cenário de compreensão em meio ao caos repentino do luto. À parte da verve jornalística, essa era sua estratégia para obter algum controle no ápice da situação. O que poderia ter sido feito? Como se isso ancorasse o corpo no tempo reduzido entre o fato consumado e as alternativas, dando espaço para processar as informações e refazer todos os passos.
E o que eu poderia ter feito? Talvez devesse ter estudado Enfermagem, minha avó acreditava que eu seria um bom enfermeiro. Eu teria observado os sintomas, estaria alerta a sinais como aquela dor no braço esquerdo um dia antes.
12. Estou tão deprimido quanto cansado. Recebo uma mensagem de J., que me pede para observar a composição do soro e evitar os riscos de aplicação de solução glicosada por engano. Olho as enfermeiras no quarto. A fadiga é tão evidente em seus rostos que é possível supor o número de atendimentos realizados por cada uma nos dois últimos plantões. A bolsa de soro é reposta com frequência assustadora.
13. Banho minha mãe como um dia a vi banhar a sua. Observo as dobras entre a pele flácida, ponho sabonete líquido na esponja e deixo a água cair sobre minhas mãos. Com movimentos circulares, faço a espuma escorrer pela vastidão das costas. Penso no cansaço concentrado nessa parte do corpo, o peso fazendo os braços penderem para a frente, acentuando o desvio na coluna. Os ciclos da vida têm algo de palpável pr’além das mudanças físicas e do acúmulo de experiências. Rosa me disse uma vez que somos resultados das escolhas de outras pessoas, lembro com carinho desse momento. Eu mesmo nunca tinha conseguido traduzir essa verdade em palavras que me fizessem sentir contemplado, ela conseguiu fazer isso de um jeito tão sutil e ao mesmo tempo grandioso. Talvez eu andasse perdido demais em mim.
14. Penso em uma concepção muito diferenciada de herança, entendida como a condição assumida por cada mulher da família, em dado momento, diante da casa e de seus moradores. Algumas o recebem como dádiva, outras como maldição. É o tipo de sorte que atravessa gerações. Não sou mulher, mas isso não basta para quebrar uma tradição.
15. A expressão popular “pular fora do barco” traduz os problemas como meio de locomoção do qual é possível fugir saltando o parapeito do convés direto para o mar.
Acontece que, às vezes, você é o próprio barco. E o parapeito. E o mar.
Existe outro ditado que diz: “quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a abandonar o barco”.
16. Estou de frente para as janelas do quarto, agora escancaradas e tão anguladas quanto o comprimento dos meus braços permite. Alguém urra de dor. Fecho os olhos e mentalizo “não é ela, não é ela, não é ela...”
17. Vejo as construções abandonadas no bairro do Pinheiro pela janela do uber. Pacífico, o caos faz as estruturas cederem aos poucos. As casas depredadas, sem janelas e portas, com pichações denunciando os responsáveis pela evacuação. Sem grandes diferenças, a única coisa que nos separa é o vidro da janela. Dentro do carro, o meu corpo também desaba. Só que dele não é possível desertar em busca de nova morada.
18. Em casa, recebo a notícia da alta. Satisfeito por retomar a rotina doméstica, estou ciente de que algum tempo deve correr para que as coisas sejam como antes. (Serão algum dia como antes?) Preparo o espaço com cuidado. As paredes me abraçam, a infiltração no canto da sala se dissipa e o metal frio da fundação aquece. Julgo o desnível na entrada do banheiro como um problema menor. Troco a roupa de cama. Lençóis limpos, cheirosos e coloridos. É bom poder dar cor aos olhos.
19. Cozinho para seis refeições diárias. Preparo feijão, arroz integral, purê de batatas, vagem e salada para o almoço. Frango com açafrão, gengibre e caldo de laranja para acompanhar. Ela gosta do meu suco de cenoura e limão, diz que parece refrigerante.
20. Lavo os pratos, a pia, o chão e a alma.
21. Estamos em casa.
[Texto originalmente publicado na minha newsletter. Editado em 25 de julho de 2024].
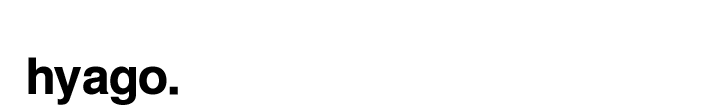
Nenhum comentário: