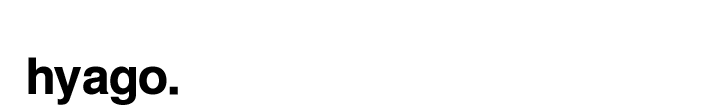O êxtase feminino na Bíblia, em Santa Teresa d'Ávila, Hilda Hilst, Raquel Naveira, Olga Savary e Adília Lopes
| De "Spanish Colonial Designs of New Mexico" (1963-1942), artista desconhecido. Reproduzido de RawPixel. |
Primeira cançãoOs versos iniciais do Cântico dos Cânticos antecipam o tom erótico do livro e concentram uma de suas referências mais explícitas. Ébria de desejo, a noiva exulta uma paixão envasada e avassaladora que eclode na ânsia comunicada de possessão, de calor e rubor, no convite para que o amado a leve para o quarto. A urgência do sexo é retomada quando a noiva sugere que se deitem ao ar livre, o gesto de fundação do leito no qual seus corpos entrariam em choque, mas também da ideia de pertencimento, de lar enquanto espaço de segurança, gozo e satisfação ancorados na presença física do Outro.
A noiva
² Que os seus lábios me cubram de beijos!
O seu amor é melhor do que o vinho.
[...]
⁴ Leve-me com você! Vamos depressa!
Seja o meu rei e leve-me para o seu quarto.
[...]
Ela
¹⁶Como você é belo, meu querido
Como é encantador!
A grama será a nossa cama;
¹⁷os cedros serão as vigas da nossa casa,
e os pinheiros serão o telhado.
Leituras ortodoxas do Cântico dos Cânticos o compreendem como alegoria do amor de Deus pela Igreja, enquanto as que se fazem mais flexíveis o consideram um livro que evidencia o casamento, a lealdade e o estrito aproveitamento do prazer sexual nesse espaço. Aqui me distancio de ambas para contemplar e conferir breve destaque ao erotismo transversal não só ao texto em questão, mas a toda a história da Igreja, desde a sua iconografia até as experiências de fé de devotas e santas, dentre as quais gostaria de destacar Santa Teresa d’Ávila (1515-1582).
Parto daquela percepção de preenchimento e ocupação de espaços físicos deixada pelo Cântico para recordar o popular episódio do êxtase da Santa quando do encontro com o querubim.
[...] Via em suas mãos um dardo de ouro grande e no final da ponta me parecia haver um pouco de fogo. Ele parecia enfiá-lo algumas vezes em meu coração e chegava às entranhas. Ao tirá-lo, me parecia que as levava consigo e me deixava toda abrasada em grande amor de Deus. Era tão grande a dor que me fazia dar pequenos gemidos, e tão excessiva suavidade que põe em mim essa enorme dor que não há como desejar que se tire nem se contenta a alma com menos do que Deus (d’Ávila, 2010, p. 267-268, grifos nossos).As possibilidades de leitura, assim como no Cântico, perpassam a interpretação de experiências diretas entre Deus e sua serva Teresa. Mas me interessa particularmente a expressão de volúpia nas palavras avizinhando-se a uma descrição do ato sexual da penetração, percepção adensada pelo vocabulário fortemente imagético e que encapsula o falo na metáfora do dardo de ouro grande — a ardência da glande expandida, pulsando os vasos à mostra. Também o movimento descrito sugere estimulação e, em síntese, a Santa e primeira doutora da Igreja se aproxima e se apropria de recursos poéticos igualmente úteis para dar vazão a experiências carnais, eróticas e mediadas pela representação do Amor Divino, sem necessariamente romper a delicada trama de seda branca que os separa.
O milagre de Santa Teresa se chama transverberação. Fato rigorosamente processado na alma, mas cuja dor — pois trata-se de algo experimentado na nervura entre dor e júbilo —, a depender da intensidade, pode até chagar. Nas palavras de São João da Cruz (1960, p. 131): “[...] Quanto mais intenso é o deleite, e maior a força do amor que produz a chaga dentro da alma, tanto maior é também o efeito produzido na chaga corporal, e crescendo um, cresce o outro”. Amor e dor são inseparáveis, estejam no campo espiritual ou no carnal, não se pode ter um sem o outro. Os contornos de Eros e Ágape perdem definição.
Em escultura encomendada pela Igreja, Gian Lorenzo Bernini demonstra um trabalho muito mais interessado no gozo que na agonia, de modo que, em Santa Maria della Vittoria (Roma, Itália) jaz uma Teresa de ares barrocos, coberta por inúmeras dobras de mármore tecido, à mostra somente pés, mãos e rosto — um rosto entorpecido, de lábios semiabertos, como num arfar ou gemido, e olhos semicerrados, como se simulassem um orgasmo.
Porque há desejo em mim, é tudo cintilância.Há cinco séculos dos escritos autobiográficos de Teresa d’Ávila, são inúmeras as poetas que trabalham no limiar entre êxtase religioso e gozo carnal, por vezes unificando-os, noutras contrapondo-os — caso específico para o qual tomo de exemplo o texto de abertura de Do desejo (1992), de Hilda Hilst (1930-2004), poeta campinense. Há insatisfação contendente com “Aquele Outro”, grafado assim, em iniciais maiúsculas, saturado pelo emprego do adjetivo decantado, que demarca a um só tempo sujeito de ovações e ideia de apartação, de separação factual entre a existência terrena e o Ser adorado. Ser esse que não corresponde às demandas físicas, ao fogo urgente e pulsante na voz do poema, reclamante da ausência de viscosidade e de contato, na mesma latência que move a noiva no texto do Cântico dos Cânticos.
Antes o cotidiano era um pensar nas alturas
Buscando Aquele Outro decantado
Surdo à minha humana ladradura.
Visgo e suor, pois nunca se faziam.
Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo
Tomas-me o corpo. E que descanso me dás
Depois das lidas. Sonhei penhascos
Quando havia o jardim aqui ao lado.
Pensei subidas onde não havia rastros.
Extasiada, fodo contigo
Ao invés de ganir diante do Nada (Hilst, 2004, p. 17).
A atmosfera de tensão posta do segundo ao quinto verso do poema de Hilst chega ao ápice quando essa voz demarca ter ao seu alcance, ao alcance do desejo, um corpo outro, físico, e que confere objetividade onde antes havia apenas O Nada. Se há desejo e tudo é cintilância, se denuncia o cansaço da contemplação pela contemplação, da inutilidade do desejo sublimado, encrustado de pepitas e diamantes, esmeraldas e pedras preciosas de toda a sorte — deslumbrantes para serem admiradas, distantes demais para serem tocadas, roladas de um lado a outro no interior da boca, engolidas, empregadas como adorno nos orifícios do corpo. E se há desejo material, há ainda insatisfação com o Verbo que não se faz carne no poema, posta a urgência dessa carne e de seus ossos, do conforto do corpo morno ao lado no pós-sexo depois de um dia de cão. Qualquer que tenha sido o objeto de desejo em outro momento, nunca conferiu segurança ou gozo.
O poema finaliza com o uso do verbo foder, reforçando a “descida” do sujeito do plano metafísico/espiritual para o concreto. E o emprego da primeira pessoa marca a natureza de levante do texto, deslocando a voz do campo da adoração, abrindo fresta que o permite completar a travessia da infinda espera pelo intangível gozo para a condição de sujeito da própria satisfação.
Pode-se dizer que atua a recuperação da capacidade de ver além por parte da voz poética, testemunhando a necessidade de suspender os tempos sombrios que ofuscam o futuro, inviabilizam a possibilidade de desejar, de querer, sempre em busca da “[...] sobrevivência do desejo nesse espaço concebido para neutralizá-lo” (Didi-Huberman, 2017, p. 13-22). Isso deriva de um olhar para o passado que não se volta à celebração, mas ao ato de gerar forças na intenção de que não se repita. O texto hilstiano é um claro exemplo, posta a insatisfação impulsionadora da voz numa busca por ser sujeita do próprio prazer enquanto redescoberta dos usos do passado. Jeanne Marie Gagnebin (2006), recorrendo a Theodor W. Adorno, enfatiza a importância do recurso ao passado como meio de esclarecimento para evitar a repetição e, portanto, gerir a permanência da mudança, a resistência ao horror, ainda que através de formas simbólicas de rebelião — todo poema é um objeto de fazer ver.
EUCARISTIA
Amo teu corpo,
Tua pele,
Teus músculos
Feitos de nervos,
Sangue,
Espasmos.
Amo tua alma,
Sinto-a na tua voz,
Nas tuas palavras
Que bebo,
Como se fossem mel,
No teu sopro quente,
Vapor em meu pescoço.
Amo tua alma
Como se fosse revestida de pele
E de músculos.
Amo teu corpo,
Como se fosse um sopro,
Uma voz.
Amo tua alma,
Como se ela tivesse nervos
E se retesasse.
Amo teu corpo
Como se ele fosse um vapor etéreo,
Intocável.
Amo teu corpo
E tua alma
Com tal intensidade
Que te reconheço
Em qualquer espasmo,
Mel em meu pescoço.
Amo tua alma
E teu corpo
Com tal vivacidade
Que não desejo posse,
Mas suave entrega.
Teu corpo:
Eu o penso;
Tua alma:
Eu a vejo,
És sujeito
E objeto
Do meu amor.
Eu te comungo (Naveira, 1995, p. 60-61).
Na contramão, recorro agora a um trecho de Eucaristia, de Raquel Naveira (1957), poeta campo-grandense. Já nos primeiros versos, o objeto poético denota o erotismo em sua incursão tátil: vem primeiro o amor físico — o amor pela pele, pelos músculos e nervos, sangue e espasmos —, para só depois seguir-se à descrição do amor à alma e, portanto, uma inversão de prioridades e importâncias. Em si fractal, o texto se desenvolve enquanto costura da relação sexual ao rito que lhe empresta o título, intercalando estrofes que dedicam amor ao corpo, à alma e ao corpo novamente, até o clímax transparente na comunhão entre os amantes, entre o espiritual e o físico. “Eu te comungo” (Naveira, 1995), relata a voz poética que recebe direto da fonte (de seu objeto de desejo) o sacramento — o corpo e a alma, o corpo e o sangue de Cristo.
Desse poema gostaria de ressaltar ainda os versos “Amo tua alma / como se ela fosse revestida de pele / E de músculos” e “no teu sopro quente / vapor no meu pescoço” (versos 7-9, 12 e 13), que remetem, respectivamente, à presença do falo como possível canalizador da alma do corpo que é amado no texto e ao gesto erótico, direcionando a leitura para a percepção da sobreposição das presenças no poema emulando uma transa.
MAR I
Para ti queria estar
sempre vestida de branco
como convém a deuses
tendo na boca o esperma
de tua brava espuma.
Violenta ou lentamente o mar
no seu vai-e-vem pulsante
ordena vagas me lamberem as coxas,
seu arremesso me cravando
uma adaga roxa (Savary, 1998, p. 176).
Em Mar I, a poeta paraense Olga Savary (1933-2020) também reelabora o desejo físico e, embora a voz no texto aparente inclinação à tradição politeísta (uma inferência, dado o recurso ao uso de deuses, no plural e em minúsculas), é possível resgatar elementos que a situam no limiar entre o puro, sob conotação religiosa, e o desejo de possessão, expresso nos versos “sempre vestida de branco / como convém a deuses” (versos 2 e 3). O desejo de ter a boca preenchida de esperma contrasta a imagem da mulher pura, vestida de branco, ao mesmo tempo ofertório e sacrifício ao Mar. Em alguns momentos da produção savaryana o Mar nomeia a personagem do homem forte, viril, e ocupa o espaço de domador, especialmente nos textos em Magma (1977-1982), onde, com frequência, a autora recorre a figuras de linguagem que transmutam a perspectiva da voz poética na de animais sendo ou a serem domados. Em Mar II lê-se: “Mar é o nome do meu macho, / meu cavalo e cavaleiro / que arremete, força, chicoteia / a fêmea que ele chama de rainha, / areia.”
O “vai-e-vem pulsante” (verso 7) mimetiza o movimento do objeto de desejo cobrindo o corpo da voz narrativa no coito, enquanto “seu arremesso me cravando / uma adaga roxa” (versos 9 e 10) aludem à penetração, trazendo a memória do dardo de ouro que transpassou o coração de Santa Teresa, desta vez moldado em punhal roxo. Roxo como a língua cansada após beijos e exercícios outros, roxo como a terminação do pênis também no exercício de seu trabalho, a glande no alcantil da concentração sanguínea.
ECLESIASTESPor fim, o Eclesiastes, da portuguesa Adília Lopes (1960), em diálogo direto com o capítulo 3, versículos 1-8 do livro homônimo na Bíblia. Enquanto no escrito do Antigo Testamento segue vasta lista de ensinamentos sobre administração dos tempos nas mais diversas áreas da vida, Lopes se apropria da estrutura para estabelecer lista breve sobre a gestão de um tempo muito mais específico: o de foder. O movimento desse texto guarda nexos explícitos com a recuperação de relações, sejam espirituais e/ou corpóreas, obviamente, mas sintetiza com maior visibilidade o que tentei descrever ao longo de minhas palavras: a torção do cânone cristão — seja ele entendido em seus princípios metafísicos/filosóficos, iconolátricos, ritualísticos ou místicos.
«Seulete Suy et seulete vueil estre,
Seulete m'a mon doulx ami laissiee.»
CHRISTINE DE PISAN
Tempo de foder
tempo de não foder
saber gerir
os tempos compor
saber estar sozinha
para saber estar contigo
ou vice-versa
aqui estão as minhas contas
do que foi (Lopes, 2009, p. 196).
Na contramão dos textos anteriores, o de Lopes se ancora de modo muito característico na apropriação da linguagem das Escrituras para sangrar o cânone, reconhecendo e recusando a um só gesto a fundamentação cristã de padrões de comportamento impostos às mulheres. Estando ainda em diálogo com o trabalho de Hilda Hilst anteriormente apresentado, quando rechaça, em alguma medida, esses lugares e tempos comuns. No Eclesiastes de Adília, o ensinamento é sobre colocar-se à frente com o verbo foder, conferindo centralidade ao sexo, em sua constância ou ausência (a entrega das contas ao final é o momento de fechamento dessa ideia), como medida de tempo.
Há, na maioria dos textos analisados, uma aproximação da vida enquanto movimento de expansão, ato que implica necessariamente subverter ao invés de conformar. Desde aqueles textos de cerne cristão, como os diários de Santa Teresa d’Ávila, observamos pequenos levantes, pois, ainda que se utilizem de meios cooptados pelas estruturas de poder (a linguagem) ou dela façam parte em alguma medida (gostaria de recordar que Santa Teresa d’Ávila escreveu o texto analisado em total entrega à sua missão de servir a Deus), também as desfiam na tessitura poética. Nem sempre os deslocamentos serão feitos de forma consciente, mas há uma latência interior que — como no êxtase de Teresa, no revide de Hilda, na comunhão de Raquel, na entrega de Savary e nos tempos de Lopes — causa pequenas explosões, pequenos levantes que podem até ser individuais, mas perenes da política para além do sujeito que os move.
Referências
BÍBLIA Sagrada: nova tradução na linguagem de hoje. São Paulo: Paulinas, 2011. p. 762-763.
CRUZ, São João da. Obras de São João da Cruz. Tradução das Carmelitas descalças do Convento de Santa Teresa do Rio de Janeiro. Petrópolis, RJ: Vozes, 1960. v. 2, p. 131.
D’ÁVILA, Santa Teresa. Livro da vida. Tradução de Marcelo Musa Cavallari. São Paulo: Penguin Classics Companhia das Letras, 2010. cap. 23, parte 13, p. 267-268.
DIDI-HUBERMAN, Georges. Introdução. In: DIDI-HUBERMAN, Georges (org.). Levantes. Tradução de Edgard de Assis Carvalho, Eric R. R. Heneault, Jorge Bastos & Mariza Perassi Bosco. São Paulo: Edições Sesc, 2017. p. 13-22, 16.
GAGNEBIN, Jeanne Marie. O que significa elaborar o passado? In: GAGNEBIN, Jeanne Maria. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: 34, 2006. p. 97-105.
HILST, Hilda. I. In: HILST, Hilda. Do desejo. São Paulo: Globo, 2004. p. 17.
LOPES, Adília. Eclesiastes. In: LOPES, Adília. Dobra: poesia reunida 1983-2007. Lisboa: Assírio & Alvim, 2009. p. 196.
NAVEIRA, Raquel. Eucaristia. In: NAVEIRA, Raquel. Abadia. Rio de Janeiro: Imago, 1995. p. 60-61.
SAVARY, Olga. Mar I. In: SAVARY, Olga. Repertório selvagem: obra reunida – 12 livros de poesia (1947-1998). Rio de Janeiro: Biblioteca Nacional, 1998. p. 176.